Salvation and Substitution in the Ethics of Synthetic Biology
From the Series: Substitution
From the Series: Substitution
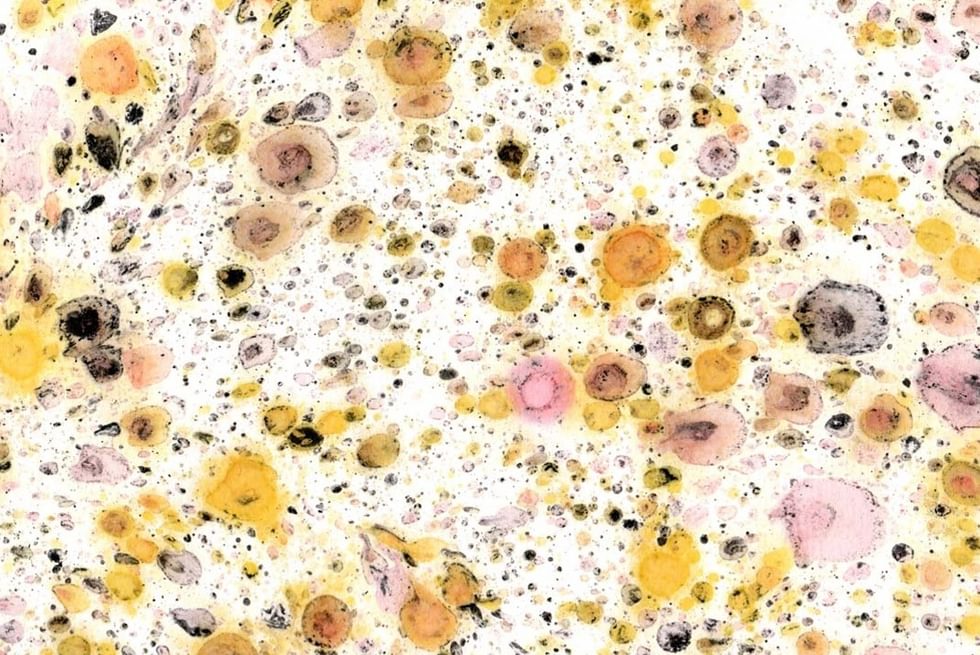

The end of the world is close, so close that we can feel the hot breath of the apocalypse blowing on our necks. Do you feel it?
DO IT NOW OR REGRET IT LATER
This phrase was projected on a white screen next to an image of a small mammal standing in snow, its snout speckled with white flakes. There is no human whose heart does not soften. It was a black-footed ferret (Mustela Nigripes) native to North America. It’s the first endangered creature to be cloned. Elizabeth Ann, the cloned ferret, is 3 years old, lives in a laboratory in Colorado, United States, and had her uterus removed. She will never leave this controlled environment, but her success story was heralded as a moment of technological maturity.
The next step, logically, is to go beyond the lab. We were a group of about thirty people discussing the implications of “release beyond containment” of genetically modified beings. The end of the world posited an ethical guideline justifying the substitution of nature with a biotechnologically produced reality.
We had gathered in a bucolic European paradise, a building that for me was a castle (for the natives, just a mansion), in a room of modest proportions but filled with intoxicating luxury and many, many pictures of British noblemen who watched over everything with the weight of history in their eyes. The meeting was co-organized by iGEM, a foundation that promotes the largest academic synthetic biology competition, and which defines itself as the heart of the discipline.
My observation of the field of synthetic biology emerged from a contradictory zone: the University of São Paulo, a periphery of global knowledge production, but a center of excellence within Brazil. Since 2015 I have been part of a group of young researchers interested in synthetic biology. We have participated in international competitions for biomolecular design and genetically modified machines, including iGEM. Upon returning from these competitions, we always discussed the “white savior” nature of the projects, almost always addressed to “urgent” problems, which coincidentally were our problems—those of vulnerable populations who had little or nothing to do with the day-to-day lives of the researchers proposing solutions.
Like me, many in this group represent a new moment in the history of Brazilian universities. We are part of a (forced) opening of university walls. Many of us belong to the first generation of our families to access public higher education (which is where scientific research is carried out) thanks to a series of public-access and retention policies for poor people, Black people, and Indigenous peoples. This characteristic of the group is important, since our shared interest in synthetic biology has always been intertwined with explicit political positions for a more open and democratic science.
The confluence between these two poles of interest becomes more evident when we look back to the “hacker” inspiration at the origin of synthetic biology. The creation myth of this field takes place in the early 2000s during a substitution operation at MIT, when researchers developing the internet were reassigned to genetic engineering. A few years before the world had experienced the birth of Dolly, as well as movements resisting the implementation of transgenic crops in Europe.
Today, synthetic biology offers a possible substitute for genetic engineering, carrying the values of the collective hacker experiences that helped create programming languages. Opening data and sharing information is the basis for synthetic biology, exemplified by the creation of biobricks, biological parts capable of functioning as programming libraries. iGEM is directly linked to this objective of creating new biobricks. Teams from universities around the world (Africa and Latin America underrepresented) present solutions to “real world problems” using synthetic biology tools.
Yet within a logic where problem-solving drives the development of synthetic biology, there is an underlying belief that the solution—and therefore, salvation—can rest on a specific technology. Deeper engagement with the social, historical, cultural, and political dimensions of problems is precluded in the investigative and creative processes. The “real world” is substituted with an imaginary, purified version, in which purely technological solutions make sense. If the technoscientific purification that separates nature from culture is the operation par excellence that produces modernity, synthetic biology’s ideal of substitution maintains the modern, colonialist-capitalist way of life, a violent and forced substitution for other non-modern ways of relating with nature.
When I asked my friends about substitution and synthetic biology, they referred to substitution as a mutation that exchanges one DNA base for another, a chemical change that can generate changes in the protein produced. This kind of substitution is one of the processes ensuring future generations will be diverse. Given synthetic biology’s existence and enormous funding, will substitution be an inheritance capable of generating change and diversity?
I feel a strange familiarity with Elisabeth Ann the ferret, as if we were kindred. We are both mammals with uteri whose existence is intertwined with the eugenic stories of genetics, the grandmother of synthetic biology. In the philosophies of Brazilian originary people, the end of the world already happened with the colonial process. The logic of salvation is no longer possible. Strategies for coexistence and expanding life possibilities are sought now.
As anthropologist and messenger for my friends, I think that we—those “in the basements of the world”—can insist on asking about the legacy that synthetic biology carries into its substitution projects. So far the ethics of substitution operationalized by synthetic biology serves to maintain the colonial belief in the end of the world. For us, children of colonization, eugenics is not a past chapter replaced by something new, but an inheritance. If we want processes of substitution capable of promoting change and diversity, what will we scientists have to give up to be finally disinherited?

O fim do mundo está próximo, tão próximo que podemos sentir o sopro quente do apocalipse em nossas nucas. Você sente isso?
FAÇA AGORA OU ARREPENDA-SE DEPOIS
Essa frase foi projetada em uma tela branca, ao lado de uma imagem de um pequeno mamífero em pé na neve com o focinho salpicado de flocos brancos. Não há ser humano cujo coração não se derreta. Era um furão-de-patas-pretas (Mustela Nigripes), nativo da América do Norte. É o primeiro animal em extinção a ser clonado. Elizabeth Ann, a furona clonada, tem 3 anos de idade, vive em um laboratório no Colorado, Estados Unidos, e teve seu útero removido. Ela nunca sairá desse ambiente controlado, mas sua história de sucesso foi proclamada como um momento de maturidade tecnológica.
O próximo passo, logicamente, é ir além do laboratório. Nós éramos um grupo de cerca de trinta pessoas discutindo as implicações da “liberação para além do confinamento” de seres geneticamente modificados. O fim do mundo colocou uma diretriz ética que justificava a substituição da natureza por uma realidade produzida biotecnologicamente.
Nos reunimos em um paraíso bucólico europeu, um prédio que, para mim, era um castelo (para os nativos, apenas uma mansão), em uma sala de proporções modestas, mas repleta de luxo intoxicante e de muitos, muitos retratos de nobres britânicos que vigiavam tudo com o peso da história nos olhos. A reunião foi coorganizada pelo iGEM, uma fundação que promove a maior competição acadêmica de biologia sintética e que se define como o coração da disciplina.
Minha observação do campo da biologia sintética emergiu de uma zona contraditória: a Universidade de São Paulo, uma periferia da produção global de conhecimento, mas um centro de excelência dentro do Brasil. Desde 2015, faço parte de um grupo de jovens pesquisadores interessados em biologia sintética. Participamos de competições internacionais de design biomolecular e de máquinas geneticamente modificadas, incluindo o iGEM. Ao retornar dessas competições, sempre discutíamos a natureza de “salvação branca” dos projetos, quase sempre voltados para problemas “urgentes”, que coincidentemente eram nossos problemas—os das populações vulneráveis, que pouco ou nada tinham a ver com o cotidiano dos pesquisadores que estavam propondo as soluções.
Como eu, muitos deste grupo representam um novo momento na história das universidades brasileiras. Somos parte de uma abertura (forçada) das paredes universitárias. Muitos de nós pertencem à primeira geração de nossas famílias a acessar o ensino superior público (onde se realiza a pesquisa científica), graças a uma série de políticas de acesso e permanência para pessoas pobres, negras e indígenas. Essa característica do grupo é importante, pois nosso interesse compartilhado em biologia sintética sempre esteve entrelaçado com posições políticas explícitas por uma ciência mais aberta e democrática.
A confluência entre esses dois pólos de interesse torna-se mais evidente quando olhamos para a inspiração “hacker” na origem da biologia sintética. O mito de criação desse campo ocorre no início dos anos 2000, durante uma operação de substituição no MIT, quando pesquisadores que desenvolviam a internet foram realocados para a engenharia genética. Poucos anos antes, o mundo havia testemunhado o nascimento de Dolly, assim como movimentos que resistiam à implementação de cultivos transgênicos na Europa.
Hoje, a biologia sintética oferece uma possível substituição para a engenharia genética, carregando os valores das experiências coletivas de hackers que ajudaram a criar linguagens de programação. A abertura de dados e o compartilhamento de informações são a base da biologia sintética, exemplificada pela criação de biobricks, partes biológicas capazes de funcionar como bibliotecas de programação. O iGEM está diretamente ligado a esse objetivo de criar novos biobricks. Equipes de universidades ao redor do mundo (com África e América Latina sub-representadas) apresentam soluções para “problemas do mundo real” usando ferramentas da biologia sintética.
No entanto, dentro de uma lógica onde a resolução de problemas impulsiona o desenvolvimento da biologia sintética, há uma crença subjacente de que a solução — e, portanto, a salvação — pode repousar em uma tecnologia específica. Um engajamento mais profundo com as dimensões sociais, históricas, culturais e políticas dos problemas é preterido nos processos investigativos e criativos. O “mundo real” é substituído por uma versão imaginária e purificada, em que soluções puramente tecnológicas fazem sentido. Se a purificação tecnocientífica que separa natureza de cultura é a operação por excelência que produz a modernidade, o ideal de substituição da biologia sintética mantém o modo de vida moderno, colonialista-capitalista, uma substituição violenta e forçada de outras formas não modernas de se relacionar com a natureza.
Quando perguntei aos meus amigos sobre substituição e biologia sintética, eles se referiram à substituição como uma mutação que troca uma base de DNA por outra, uma mudança química que pode gerar alterações na proteína produzida. Esse tipo de substituição é um dos processos que garantem que as gerações futuras sejam diversas. Dada a existência e o enorme financiamento da biologia sintética, poderia a substituição ser uma herança capaz de gerar mudanças e diversidade?
Sinto uma estranha familiaridade com Elizabeth Ann, a furona, como se fôssemos parentes. Ambas somos mamíferos com úteros, cujas existências estão entrelaçadas com as histórias eugênicas da genética, a avó da biologia sintética. Nas filosofias dos povos originários do Brasil, o fim do mundo já aconteceu com o processo colonial. A lógica de salvação não é mais possível. Agora buscam-se estratégias de convivência e de ampliação das possibilidades de vida.
Como antropóloga e mensageira de meus amigos, acredito que nós — aqueles “nos porões do mundo” — podemos insistir em perguntar sobre o legado que a biologia sintética carrega em seus projetos de substituição. Até agora, a ética da substituição operacionalizada pela biologia sintética serve para manter a crença colonial no fim do mundo. Para nós, filhos da colonização, a eugenia não é um capítulo passado substituído por algo novo, mas uma herança. Se quisermos processos de substituição capazes de promover mudanças e diversidade, o que nós, cientistas, teremos que renunciar para finalmente sermos deserdados?

El fin del mundo está cerca, tan cerca que podemos sentir el aliento caliente del apocalipsis soplando en nuestras nucas. ¿Lo sientes?
HAZLO AHORA O ARREPIÉNTETE DESPUÉS
Esta frase se proyectó en una pantalla blanca, junto a la imagen de un pequeño mamífero de pie en la nieve, con el hocico salpicado de copos blancos. No hay ser humano cuyo corazón no se derrita. Se trataba de un hurón de patas negras (Mustela nigripes), nativo de América del Norte. Es el primer animal en peligro de extinción que ha sido clonado. Elizabeth Ann, la hurona clonada, tiene tres años de edad, vive en un laboratorio en Colorado (Estados Unidos) y le han extraído el útero. Nunca saldrá de ese entorno controlado, pero su historia de éxito se proclamó como un momento de madurez tecnológica.
El próximo paso, lógicamente, será superar el laboratorio. Éramos un grupo de unas treinta personas debatiendo las implicaciones de la “liberación más allá del confinamiento” de seres genéticamente modificados. El fin del mundo sentó un precedente ético que justificaba la sustitución de la naturaleza por una realidad producida mediante biotecnología.
Nos reunimos en un paraíso bucólico europeo, un edificio que, para mí, era un castillo (para los nativos, solo una mansión), en una sala de proporciones modestas pero llena de un lujo embriagador y de muchos, muchos retratos de nobles británicos que observaban todo con el peso de la historia en sus ojos. La reunión fue coorganizada por iGEM, una fundación que promueve la mayor competición académica de biología sintética y que se define como el corazón de esta disciplina.
Mi interés por la biología sintética surgió en un contexto contradictorio: la Universidad de São Paulo, una periferia en la producción global de conocimiento, pero un centro de excelencia en Brasil. Desde 2015, formo parte de un grupo de jóvenes investigadores interesados en biología sintética. Participamos en competiciones internacionales de diseño biomolecular y de máquinas genéticamente modificadas, incluido iGEM. Al regresar de estas competiciones, siempre discutíamos sobre la naturaleza de “salvación blanca” de los proyectos, casi siempre dirigidos a problemas “urgentes”, que curiosamente eran nuestros problemas: los de las poblaciones vulnerables que poco o nada tenían que ver con el día a día de los investigadores que proponían las soluciones.
Al igual que yo, muchos de los integrantes de este grupo representan un nuevo momento en la historia de las universidades brasileñas. Somos parte de una apertura (forzada) de los muros universitarios. Muchos de nosotros somos la primera generación de nuestras familias en acceder a la educación superior pública (donde se lleva a cabo la investigación científica), gracias a una serie de políticas de acceso y permanencia para personas pobres, negras e indígenas. Esta característica del grupo es importante, ya que nuestro interés compartido en la biología sintética siempre ha estado entrelazado con posiciones políticas explícitas a favor de una ciencia más abierta y democrática.
La confluencia entre estos dos focos de interés se hace más evidente al observar la inspiración «hacker» en el origen de la biología sintética. El mito de la creación de este campo se remonta a principios de la década de 2000, durante una reasignación masiva en el MIT, cuando investigadores que desarrollaban Internet fueron trasladados a la ingeniería genética. Unos años antes, el mundo había presenciado el nacimiento de Dolly, así como movimientos que se resistían a la implementación de cultivos transgénicos en Europa.
Hoy en día, la biología sintética ofrece una posible sustitución para la ingeniería genética, que porta los valores de las experiencias colectivas de los hackers que ayudaron a crear lenguajes de programación. La apertura de datos y el intercambio de información son la base de la biología sintética, ejemplificada por la creación de biobricks, partes biológicas capaces de funcionar como bibliotecas de programación. El proyecto iGEM está directamente vinculado a este objetivo de crear nuevos biobricks. Equipos de universidades de todo el mundo (con África y América Latina subrepresentadas) presentan soluciones para “problemas del mundo real” utilizando herramientas de la biología sintética.
Sin embargo, en una lógica en la que la resolución de problemas impulsa el desarrollo de la biología sintética, subyace la creencia de que la solución, y por ende la salvación, puede residir en una tecnología específica. Se ignora la dimensión social, histórica, cultural y política de los problemas en los procesos de investigación y creación. El “mundo real” se sustituye por una versión imaginaria y purificada, en la que las soluciones puramente tecnológicas tienen sentido. Si la purificación tecnocientífica que separa la naturaleza de la cultura es la operación por excelencia que produce la modernidad, el ideal de sustitución de la biología sintética mantiene el modo de vida moderno, colonialista y capitalista, una sustitución violenta y forzada de otras formas no modernas de relacionarse con la naturaleza.
Cuando pregunté a mis amigos sobre la sustitución y la biología sintética, se refirieron a ella como una mutación que intercambia una base de ADN por otra, un cambio químico que puede generar alteraciones en la proteína producida. Este tipo de sustitución es uno de los procesos que aseguran la diversidad en las generaciones futuras. Dada la existencia y el enorme financiamiento de la biología sintética, ¿podría la sustitución ser una herencia capaz de generar cambios y diversidad?
Siento una extraña familiaridad con Elizabeth Ann, la hurona, como si fuéramos parientes. Ambas somos mamíferos con úteros, cuyas existencias están entrelazadas con las historias eugenésicas de la genética, la abuela de la biología sintética. En las filosofías de los pueblos originarios de Brasil, el fin del mundo ya ocurrió con el proceso colonial. La lógica de la salvación ya no es posible. Ahora se buscan estrategias de convivencia y de ampliación de las posibilidades de vida.
Como antropóloga y mensajera de mis amigos, creo que nosotros, quienes estamos “en los sótanos del mundo”, podemos insistir en preguntar sobre el legado que la biología sintética lleva en sus proyectos de sustitución. Hasta ahora, la ética de la sustitución operada por la biología sintética sirve para mantener la creencia colonial en el fin del mundo. Para nosotros, hijos de la colonización, la eugenesia no es un capítulo pasado sustituido por algo nuevo, sino una herencia. Si queremos procesos de sustitución capaces de promover cambios y diversidad, ¿qué tendremos que renunciar nosotros, los científicos, para finalmente ser desheredados?